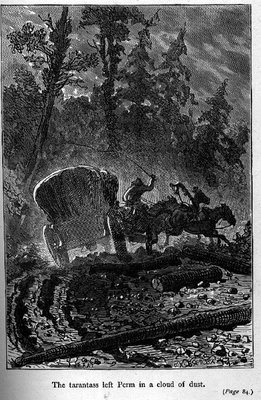Na noite anterior, as hienas tinham andado pelo bosque que circundava o nosso acampamento. Primeiro, os ruídos pareciam da lenha a estalar na fogueira, mas subitamente o Gys apontou a lanterna para trás. E, nas sombras, todos vimos aqueles vultos corcundas a escaparem-se para o meio das árvores. Foi então que alguém perguntou:
“Are they dangerous?” “It depends”
“It depends”, disse o guia, alimentando a fogueira de mais lenha. Durante o dia, eram animais solitários, inofensivos e mesmo cobardes. Mas, quando ficava escuro, juntavam-se para caçar. E, nessa altura, eram evitadas por todos os animais da selva. Até pelos leões.
Olhei de novo para o bosque à minha frente. Nada se via mexer naquela indistinguível massa negra, mas o medo adivinhava-lhes a presença. Então, o Gys continuou. Uma das mais sangrentas histórias do delta com homens envolvidos tivera as hienas como protagonistas. Uma matilha entrara a meio da noite num acampamento e fora descoberta por uma criança de 9 anos. Em pânico, a criança saiu da sua tenda e tentara alcançar a tenda dos seus pais. Mas, com isso, desrespeitou a condição número 1 de uma pessoa na selva:
“Never run. If you run, they think you are a prey. If you run, you are food.” Não conseguiu dar mais que alguns passos. Foi abatida por uma matilha de hienas esfomeadas. Só na manhã seguinte é que foi encontrada pela família em desespero. Mas pouco mais restava que as suas ossadas.
De um momento para o outro, sentia-se que a fogueira não aquecia o suficiente. Sentado num enorme tronco de árvore que tinha tombado, eu só esperava que aquele formigueiro na barriga não fosse o fermentar de uma cólica. Ou que qualquer outra necessidade não me obrigasse a fazer 30 metros no breu da noite até ao semi-escondido
Douglas, apenas na incipiente companhia de uma lanterna.
Felizmente, nada aconteceu. Aliás, enquanto caminhávamos no primeiro
game walk do dia, o sinistro relato da noite anterior não era mais que uma memória esbatida. A manhã estava muito quente e o nosso andamento era esforçado. De tão opressivo, o calor até escondia os animais. Desde que saíramos do acampamento, tínhamos já deixado para trás duas horas de marcha solitária, onde pouco mais ouvíamos que a nossa própria respiração. Ofegante, quase sufocada.

Então, o nosso guia quebrou o silêncio e apontou para longe para a copa de uma árvore.
“It’s a killing”, virou-se ele para nós, indicando-nos os ramos cobertos de abutres. Virámos o rumo e seguimos naquela direcção. Estávamos exaustos, mas a expectativa fazia-nos andar mais rápido. E, durante um quarto de hora, aproximámo-nos cada vez mais da árvore. Mas, quando lá chegámos, não havia sinal de vida. Os abutres já não estavam por ali e, estranhamente, nenhum outro animal mitigava a sede na pequena lagoa que existia junto ao arvoredo. Até que a justificação saiu da boca do Gys, enquanto olhava para o chão:
“Lions.” Naquele momento, senti o nosso guia invadido de um entusiasmo que ainda não se tinha revelado. E, num tom quase juvenil, acrescentou:
“Let’s follow them.”
À frente ia o Gys e o nosso pisteiro, nativo do delta; pelo meio, quatro urbanos em passo titubeante; atrás, com o coração a cavalgar, eu fechava o grupo. Tentando manter a frieza, ia olhando à vez para o lado e para trás, não fossem decidir-se aparecer nas minhas costas. Mas foi junto à cabeça do grupo que se ouviu. Era um rugido terrível. E tal e qual o Gys dissera uns dias antes, sentimo-lo troar no nosso peito antes de chegar aos nossos ouvidos.
Num ápice, o grupo desmembrou-se. Uns agarravam-se aos outros, alguém gritou de terror e houve até quem corresse dois ou três passos até se lembrar da lição (
“Never run”). À cabeça do pelotão, o pisteiro, africano e reincidente, mantinha-se estático. O nosso guia virou-se para nós e levantou as palmas das mãos, aconselhando calma. Eu tinha ficado parado ao soar do rugido. Gelara. Então, o Gys advertiu:
“Remember, they might want to scare you. So, if they run in your direction, stay still.” Entreolhámo-nos.
“Even if they are only two metres from you, stay still.” E concluiu:
“Stay still and you stay alive.” Aos poucos, chegámo-nos adiante. E vimos os leões, à sombra de uma acácia.
Deviam ser dez ou doze. Não vi nenhuma juba, mas a maior parte eram adultos. Leoas ou jovens leões. E também algumas crias. Estavam a vinte metros de nós, refastelados e defendendo-se do sol. Um deles bocejou. Uma cria, do tamanho do meu tronco, decidiu exibir-se e rugiu na nossa direcção. Então, tão subitamente como ouvíramos o primeiro dos rugidos, internaram-se no bosque. Deixámos de os ver. Mas não de os sentir.
Etiquetas: Africa, Botswana, Reino Animal, Safari