Kkkkkrruk-uuu-u-u (Moremi, 2003.04.27)
Elas também cantam por cá, mas é lá que a voz rouca das rolas mais enche as tardes. Cada uma com o seu canto, todas elas a maior das saudades de África.
Etiquetas: Africa, Botswana, Reino Animal, Safari
Blog sobre Sítios, Destinos e Viagens
Etiquetas: Africa, Botswana, Reino Animal, Safari
 O último dos grandes exploradores britânicos, Sir Wilfred Thesiger (1910-2003) nunca abandonou o desdém pelas modernas perversi- dades, sempre trilhando num pedregoso calcorrear de caminhos de fome e cansaço, frio e morte.
O último dos grandes exploradores britânicos, Sir Wilfred Thesiger (1910-2003) nunca abandonou o desdém pelas modernas perversi- dades, sempre trilhando num pedregoso calcorrear de caminhos de fome e cansaço, frio e morte.  “De manhã observei Mabkhaut a soltar os camelos para o pasto e, à medida que estes se libertavam, momentaneamente poupados do duro trabalho a que os submetíamos, apercebi-me de que só conseguia pensar neles como comida. Alegrei-me quando desapareceram de vista. Al Auf aproximou-se e deitou-se a meu lado, cobrindo-se com a sua capa. Penso que não falámos. Eu estava deitado com os olhos fechados, insistindo para comigo: «Se estivesse em Londres, daria tudo para estar aqui». (…) Preferia estar aqui, faminto como estava, do que sentar-me numa cadeira, empanturrado de comida, a ouvir rádio. (…) Mantive-me desesperadamente fiel a esta convicção. Parecia-me infinitamente importante. Pô-la minimamente em causa seria admitir a derrota, renegar tudo aquilo em que acreditava.”
“De manhã observei Mabkhaut a soltar os camelos para o pasto e, à medida que estes se libertavam, momentaneamente poupados do duro trabalho a que os submetíamos, apercebi-me de que só conseguia pensar neles como comida. Alegrei-me quando desapareceram de vista. Al Auf aproximou-se e deitou-se a meu lado, cobrindo-se com a sua capa. Penso que não falámos. Eu estava deitado com os olhos fechados, insistindo para comigo: «Se estivesse em Londres, daria tudo para estar aqui». (…) Preferia estar aqui, faminto como estava, do que sentar-me numa cadeira, empanturrado de comida, a ouvir rádio. (…) Mantive-me desesperadamente fiel a esta convicção. Parecia-me infinitamente importante. Pô-la minimamente em causa seria admitir a derrota, renegar tudo aquilo em que acreditava.” Etiquetas: Escritores, Livros, Viajantes
 Ocorreu-me que devia parar. Então, fiquei a contem- plá-lo. Apenas. A menos de dez metros de mim, ele permanecia estático. Até que decidiu agir. E, curvando sobre si mesmo, fez meia-volta para o bosque. Não tinham passado mais que cinco segundos.
Ocorreu-me que devia parar. Então, fiquei a contem- plá-lo. Apenas. A menos de dez metros de mim, ele permanecia estático. Até que decidiu agir. E, curvando sobre si mesmo, fez meia-volta para o bosque. Não tinham passado mais que cinco segundos. Gys, o guia, dormia todas as noites em cima do atrelado do Mercedes. Pela manhã, interpelei-o enquanto ele fazia o pequeno-almoço. “Yes, I heard”, respondeu ao dobrar-se para apanhar uma lata de cacau instantâneo, “it was an impala. They do those noises when they are afraid of something”. Fiz um sorriso amarelo e desviei-me. Afinal, o terror de Xakanaxa não era senão o mais assustadiço dos mamíferos da selva.
Gys, o guia, dormia todas as noites em cima do atrelado do Mercedes. Pela manhã, interpelei-o enquanto ele fazia o pequeno-almoço. “Yes, I heard”, respondeu ao dobrar-se para apanhar uma lata de cacau instantâneo, “it was an impala. They do those noises when they are afraid of something”. Fiz um sorriso amarelo e desviei-me. Afinal, o terror de Xakanaxa não era senão o mais assustadiço dos mamíferos da selva.Etiquetas: Africa, Botswana, Reino Animal, Safari
 Então, ele apontou para o longe: “Some- thing is happe- ning there”. No chão, uma enorme mancha preta balouçava sem que percebêssemos porquê. Era como se um estranho vento estivesse a impor a sua força sobre um corpo inerte. Uma dezena de metros à frente, já Gys descodificava a cena: “Four lions. They killed a buffalo”.
Então, ele apontou para o longe: “Some- thing is happe- ning there”. No chão, uma enorme mancha preta balouçava sem que percebêssemos porquê. Era como se um estranho vento estivesse a impor a sua força sobre um corpo inerte. Uma dezena de metros à frente, já Gys descodificava a cena: “Four lions. They killed a buffalo”. Regressá- mos pela manhã para encontrar quase tudo na mesma. Só mesmo o búfalo estava a caminho de ser uma massa disforme, onde apenas as ossadas mantinham a forma do que ele já tinha sido. Um leão espreguiçava-se rolando sobre o dorso, outro bocejava sonoramente. Os outros dois não tinham perdido o apetite, para teste da paciência dos abutres. Dessa vez, ficámos menos tempo. Mas voltaríamos ao fim da tarde, para deparar com a mais extraordinária cena de toda a viagem.
Regressá- mos pela manhã para encontrar quase tudo na mesma. Só mesmo o búfalo estava a caminho de ser uma massa disforme, onde apenas as ossadas mantinham a forma do que ele já tinha sido. Um leão espreguiçava-se rolando sobre o dorso, outro bocejava sonoramente. Os outros dois não tinham perdido o apetite, para teste da paciência dos abutres. Dessa vez, ficámos menos tempo. Mas voltaríamos ao fim da tarde, para deparar com a mais extraordinária cena de toda a viagem. Nessa altura, os quatro leões mantin- ham-se por ali, rasgando os últimos músculos da sua presa. Os abutres tinham duplicado em número e já partilhavam os ramos de uma árvore morta com alguns marabus. Estranhamente, não se viam hienas, mas entretanto tinham aparecido dois crocodilos. Sentia-se no ar que a refeição dos leões não demoraria muito mais. Em breve, os necrófagos sentar-se-iam à mesa.
Nessa altura, os quatro leões mantin- ham-se por ali, rasgando os últimos músculos da sua presa. Os abutres tinham duplicado em número e já partilhavam os ramos de uma árvore morta com alguns marabus. Estranhamente, não se viam hienas, mas entretanto tinham aparecido dois crocodilos. Sentia-se no ar que a refeição dos leões não demoraria muito mais. Em breve, os necrófagos sentar-se-iam à mesa. Foi então que fomos autentica- mente colhidos por uma temível locomotiva de múscu- los e convicção. A cinco metros de nós, numa passada marcial, eles iam surgindo. Um… dois… três… quatro… sete… onze leões seguiam o trilho de areia que fazia as vezes de estrada e dirigiam-se para a peça de carne. Não tenho memória de mais colossal demonstração de força. Gys, que por ali já devia ter visto quase de tudo, esbugalhava os olhos: “The other lions are escaping. Never saw it. Never in my life…”. Enquanto os abutres esvoaçavam para todos os lados, os novos proprietários da carcaça mediam forças, rugindo e ameaçando-se entre si. O que restava do búfalo era escasso para tanta vontade. Rapidamente o submergiram, rasgando com os dentes os magros despojos de um dia de banquete.
Foi então que fomos autentica- mente colhidos por uma temível locomotiva de múscu- los e convicção. A cinco metros de nós, numa passada marcial, eles iam surgindo. Um… dois… três… quatro… sete… onze leões seguiam o trilho de areia que fazia as vezes de estrada e dirigiam-se para a peça de carne. Não tenho memória de mais colossal demonstração de força. Gys, que por ali já devia ter visto quase de tudo, esbugalhava os olhos: “The other lions are escaping. Never saw it. Never in my life…”. Enquanto os abutres esvoaçavam para todos os lados, os novos proprietários da carcaça mediam forças, rugindo e ameaçando-se entre si. O que restava do búfalo era escasso para tanta vontade. Rapidamente o submergiram, rasgando com os dentes os magros despojos de um dia de banquete.Etiquetas: Africa, Botswana, Reino Animal, Safari
 Eram 4 da tarde de um Domin- go de 1965. Uns poucos tinham ido de carro e a maior parte na excur- são, mas estavam quase todos para Tomar. E quando o Vitória jogava fora, o bairro ficava entregue aos velhos e a algumas mulheres. Há que dizer que, depois dos jogos com o Tramagal e com o Torres Novas, já não havia hipótese de subir à Segunda do Nacional. Mas, mesmo assim, acompanhava-se o Clube. Aproveitava-se e conhecia-se a terra.
Eram 4 da tarde de um Domin- go de 1965. Uns poucos tinham ido de carro e a maior parte na excur- são, mas estavam quase todos para Tomar. E quando o Vitória jogava fora, o bairro ficava entregue aos velhos e a algumas mulheres. Há que dizer que, depois dos jogos com o Tramagal e com o Torres Novas, já não havia hipótese de subir à Segunda do Nacional. Mas, mesmo assim, acompanhava-se o Clube. Aproveitava-se e conhecia-se a terra. Na época seguinte, com 9 anos, já eu respondia de ponta de língua quando me perguntavam se era Benfica ou Sporting: “Sou do Vitória”. Lembro-me de ter visto um ou dois jogos, mas não sei com quem. Aliás, só muito mais tarde é que soube que tínhamos ficado outra vez em terceiro no campeonato. E que o Oriental e o Estrela da Amadora é que tinham subido à Segunda.
Na época seguinte, com 9 anos, já eu respondia de ponta de língua quando me perguntavam se era Benfica ou Sporting: “Sou do Vitória”. Lembro-me de ter visto um ou dois jogos, mas não sei com quem. Aliás, só muito mais tarde é que soube que tínhamos ficado outra vez em terceiro no campeonato. E que o Oriental e o Estrela da Amadora é que tinham subido à Segunda. Na Charneca (que parecia uma praça de touros), no Operário (quase um derby), em Camarate (ao lado de um cemitério), nos Olivais (outro cemitério), na Musgueira (onde levei umas estaladas), no Damaiense (onde éramos sempre roubados), no Palmense (onde sempre perdi), no Porto Salvo (um metro da linha lateral à linha de grande área), no Domingos Sávio (onde as duas linhas quase coincidiam), em Agualva (os melhores couratos), em Santa Iria (porrada e invasão de campo), no Unidos do Bairro Padre Cruz (invasão de campo e porrada, acho), etcetera, etcetera… Enfim, poderia tranquilamente e de memória juntar-lhes mais vinte pelados. Ou trinta.
Na Charneca (que parecia uma praça de touros), no Operário (quase um derby), em Camarate (ao lado de um cemitério), nos Olivais (outro cemitério), na Musgueira (onde levei umas estaladas), no Damaiense (onde éramos sempre roubados), no Palmense (onde sempre perdi), no Porto Salvo (um metro da linha lateral à linha de grande área), no Domingos Sávio (onde as duas linhas quase coincidiam), em Agualva (os melhores couratos), em Santa Iria (porrada e invasão de campo), no Unidos do Bairro Padre Cruz (invasão de campo e porrada, acho), etcetera, etcetera… Enfim, poderia tranquilamente e de memória juntar-lhes mais vinte pelados. Ou trinta.Etiquetas: Lisboa

 Enojados, os nativos teimavam que mexilhões não eram comida; eu antecipava o vómito ao ver a mistela. Pelo sim pelo não, defen- di-me: “I dived and dived again. That is the only mussel on the lake”.
Enojados, os nativos teimavam que mexilhões não eram comida; eu antecipava o vómito ao ver a mistela. Pelo sim pelo não, defen- di-me: “I dived and dived again. That is the only mussel on the lake”. Nesse mesmo dia, um exército de macacos entrou-nos no camião e nas mochilas, levando apenas as maçãs do Ralph: “Dam monkeys from hell”. Decididamente, o delta voltava-se contra o cozinheiro alemão, que, atirando torrões de terra, gritava: “I will roast you with your apples”. Ficou-se no entanto pela ameaça. Aliás, já o tinha dito, nunca cozinhou para nós.
Nesse mesmo dia, um exército de macacos entrou-nos no camião e nas mochilas, levando apenas as maçãs do Ralph: “Dam monkeys from hell”. Decididamente, o delta voltava-se contra o cozinheiro alemão, que, atirando torrões de terra, gritava: “I will roast you with your apples”. Ficou-se no entanto pela ameaça. Aliás, já o tinha dito, nunca cozinhou para nós.Etiquetas: Africa, Botswana, Reino Animal, Safari
 Mas já um rotundo “Luís Figo!”, o nosso número sete, era disparo certeiro por todo o globo. Como se fosse um apelido do nome próprio Portugal. Na realidade, de tão frequente, a contra-resposta tornava-se esperada.
Mas já um rotundo “Luís Figo!”, o nosso número sete, era disparo certeiro por todo o globo. Como se fosse um apelido do nome próprio Portugal. Na realidade, de tão frequente, a contra-resposta tornava-se esperada.
 “It depends”, disse o guia, alimentando a fogueira de mais lenha. Durante o dia, eram animais solitários, inofensivos e mesmo cobardes. Mas, quando ficava escuro, juntavam-se para caçar. E, nessa altura, eram evitadas por todos os animais da selva. Até pelos leões.
“It depends”, disse o guia, alimentando a fogueira de mais lenha. Durante o dia, eram animais solitários, inofensivos e mesmo cobardes. Mas, quando ficava escuro, juntavam-se para caçar. E, nessa altura, eram evitadas por todos os animais da selva. Até pelos leões. Então, o nosso guia quebrou o silêncio e apontou para longe para a copa de uma árvore. “It’s a killing”, virou-se ele para nós, indicando-nos os ramos cobertos de abutres. Virámos o rumo e seguimos naquela direcção. Estávamos exaustos, mas a expectativa fazia-nos andar mais rápido. E, durante um quarto de hora, aproximámo-nos cada vez mais da árvore. Mas, quando lá chegámos, não havia sinal de vida. Os abutres já não estavam por ali e, estranhamente, nenhum outro animal mitigava a sede na pequena lagoa que existia junto ao arvoredo. Até que a justificação saiu da boca do Gys, enquanto olhava para o chão: “Lions.” Naquele momento, senti o nosso guia invadido de um entusiasmo que ainda não se tinha revelado. E, num tom quase juvenil, acrescentou: “Let’s follow them.”
Então, o nosso guia quebrou o silêncio e apontou para longe para a copa de uma árvore. “It’s a killing”, virou-se ele para nós, indicando-nos os ramos cobertos de abutres. Virámos o rumo e seguimos naquela direcção. Estávamos exaustos, mas a expectativa fazia-nos andar mais rápido. E, durante um quarto de hora, aproximámo-nos cada vez mais da árvore. Mas, quando lá chegámos, não havia sinal de vida. Os abutres já não estavam por ali e, estranhamente, nenhum outro animal mitigava a sede na pequena lagoa que existia junto ao arvoredo. Até que a justificação saiu da boca do Gys, enquanto olhava para o chão: “Lions.” Naquele momento, senti o nosso guia invadido de um entusiasmo que ainda não se tinha revelado. E, num tom quase juvenil, acrescentou: “Let’s follow them.” À frente ia o Gys e o nosso pisteiro, nativo do delta; pelo meio, quatro urbanos em passo titubeante; atrás, com o coração a cavalgar, eu fechava o grupo. Tentando manter a frieza, ia olhando à vez para o lado e para trás, não fossem decidir-se aparecer nas minhas costas. Mas foi junto à cabeça do grupo que se ouviu. Era um rugido terrível. E tal e qual o Gys dissera uns dias antes, sentimo-lo troar no nosso peito antes de chegar aos nossos ouvidos.
À frente ia o Gys e o nosso pisteiro, nativo do delta; pelo meio, quatro urbanos em passo titubeante; atrás, com o coração a cavalgar, eu fechava o grupo. Tentando manter a frieza, ia olhando à vez para o lado e para trás, não fossem decidir-se aparecer nas minhas costas. Mas foi junto à cabeça do grupo que se ouviu. Era um rugido terrível. E tal e qual o Gys dissera uns dias antes, sentimo-lo troar no nosso peito antes de chegar aos nossos ouvidos.Etiquetas: Africa, Botswana, Reino Animal, Safari
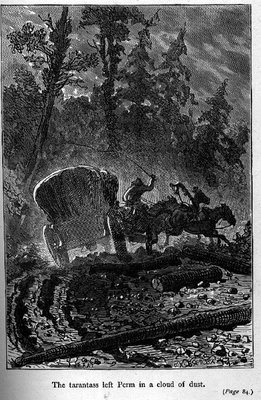 Livro a livro, aos trezentos escudos de cada vez, compunha-se quase todo o legado de Verne. Viagem a viagem, cheguei a 74 volumes impressos no fim do Século XIX e trazidos na ortografia da época: “No decurso do anno de 186… commoveu singularmente o mundo inteiro uma tentativa scientifica sem precedentes nos annaes da sciencia. Os socios do Gun-Club, associação de artilheiros fundada em Baltimore depois da guerra da América, tiveram o pensamento de estabelecer communicação com a Lua, - sim, com a Lua, - atirando-lhe uma bala.”
Livro a livro, aos trezentos escudos de cada vez, compunha-se quase todo o legado de Verne. Viagem a viagem, cheguei a 74 volumes impressos no fim do Século XIX e trazidos na ortografia da época: “No decurso do anno de 186… commoveu singularmente o mundo inteiro uma tentativa scientifica sem precedentes nos annaes da sciencia. Os socios do Gun-Club, associação de artilheiros fundada em Baltimore depois da guerra da América, tiveram o pensamento de estabelecer communicação com a Lua, - sim, com a Lua, - atirando-lhe uma bala.”Etiquetas: Escritores, Livros
 Um mês e 17 dias depois, fomos desper- tados às 5 da manhã. Tinha sido a primeira noite numa tenda em plena selva. Não fora fácil adormecer, pois os elefantes faziam-se ouvir do outro lado do rio. E lembro-me de duas vezes em que, no escuro, me ajoelhara no saco-cama para ver se as hienas andavam junto à fogueira. Eu próprio guardara os restos do jantar no atrelado do camião para evitar que elas rondassem a clareira. Mas era tão grande a excitação que o sono não conseguia impor-se de vez. Quando finalmente adormeci, uma voz chamou-me para o dia que começava a nascer. Íamos fazer o nosso primeiro game walk.
Um mês e 17 dias depois, fomos desper- tados às 5 da manhã. Tinha sido a primeira noite numa tenda em plena selva. Não fora fácil adormecer, pois os elefantes faziam-se ouvir do outro lado do rio. E lembro-me de duas vezes em que, no escuro, me ajoelhara no saco-cama para ver se as hienas andavam junto à fogueira. Eu próprio guardara os restos do jantar no atrelado do camião para evitar que elas rondassem a clareira. Mas era tão grande a excitação que o sono não conseguia impor-se de vez. Quando finalmente adormeci, uma voz chamou-me para o dia que começava a nascer. Íamos fazer o nosso primeiro game walk. O Gys, de nome Gysbert e pronúncia Raïss, tinha apenas 23 anos. No entanto, chegara à selva aos cinco. Sabia por isso a sua linguagem. Vira numa pilha de ossos a idade do elefante (pois as presas já estavam gastas), apercebera-se do seu sexo (pela envergadura das ossadas) e sabia-lhe a data da morte (pela decomposição da pele ali ao lado). Há seis anos que levava expedições de ignorância por entre os perigos da savana. E, há talvez seis anos, respondia “Ach, it is a safari myth…” quando perguntavam por cemitérios de elefantes. Mas, sobretudo, ensinava o respeito e a consciência como lições de sobrevivência na selva.
O Gys, de nome Gysbert e pronúncia Raïss, tinha apenas 23 anos. No entanto, chegara à selva aos cinco. Sabia por isso a sua linguagem. Vira numa pilha de ossos a idade do elefante (pois as presas já estavam gastas), apercebera-se do seu sexo (pela envergadura das ossadas) e sabia-lhe a data da morte (pela decomposição da pele ali ao lado). Há seis anos que levava expedições de ignorância por entre os perigos da savana. E, há talvez seis anos, respondia “Ach, it is a safari myth…” quando perguntavam por cemitérios de elefantes. Mas, sobretudo, ensinava o respeito e a consciência como lições de sobrevivência na selva. Três metros de pele luzidia e potência muscular. Enfim, o abraço mortal que todos temiam. Por cima do meu ombro, a Fátima arregalava os olhos. Afinal, ali havia cobras. Nunca me tinha parecido importante dizer-lhe que o Delta do Okavango tinha mais de 70 espécies de serpentes. E, sobretudo, que algumas delas se contavam entre as mais venenosas do mundo. Mas, logo ao primeiro game walk, ali estavam elas.
Três metros de pele luzidia e potência muscular. Enfim, o abraço mortal que todos temiam. Por cima do meu ombro, a Fátima arregalava os olhos. Afinal, ali havia cobras. Nunca me tinha parecido importante dizer-lhe que o Delta do Okavango tinha mais de 70 espécies de serpentes. E, sobretudo, que algumas delas se contavam entre as mais venenosas do mundo. Mas, logo ao primeiro game walk, ali estavam elas. “Just give her room to go”, ouviu-se, enquanto nós contemplávamos em quase hipnose os seus profundos olhos negros e a língua bifendida que entrava e saía da boca. Progressivamente, a admiração pelo esplêndido animal ia substituindo o medo. Até que ela decidiu regressar ao seu tufo de erva seca. E, com o movimento de um chicote, ondulou vigorosamente das nossas vidas para fora.
“Just give her room to go”, ouviu-se, enquanto nós contemplávamos em quase hipnose os seus profundos olhos negros e a língua bifendida que entrava e saía da boca. Progressivamente, a admiração pelo esplêndido animal ia substituindo o medo. Até que ela decidiu regressar ao seu tufo de erva seca. E, com o movimento de um chicote, ondulou vigorosamente das nossas vidas para fora.Etiquetas: Africa, Botswana, Reino Animal, Safari
 À quarta noite, o repetido uivar de um chacal amedrontara o nosso sono ao relento em Makgadikgadi. E ao quinto dia, ainda consegui espreitar os estorninhos-de-Burchell e os rolieiros-de-peito-lilás (não há erro no nome) entre os ramos das árvores junto ao Boteti. Mas os animais de documentário, esses ainda não andavam por ali.
À quarta noite, o repetido uivar de um chacal amedrontara o nosso sono ao relento em Makgadikgadi. E ao quinto dia, ainda consegui espreitar os estorninhos-de-Burchell e os rolieiros-de-peito-lilás (não há erro no nome) entre os ramos das árvores junto ao Boteti. Mas os animais de documentário, esses ainda não andavam por ali. À nossa espera estavam três mokoros e três indígenas com varas. África também tem gôndolas, mas aqui ninguém canta pelo caminho. Ao contrário, o nosso poler nunca abriu o rosto e só falou quando lhe perguntei sobre a cicatriz desenhada no ombro. “HIV/AIDS”, atirou com secura.
À nossa espera estavam três mokoros e três indígenas com varas. África também tem gôndolas, mas aqui ninguém canta pelo caminho. Ao contrário, o nosso poler nunca abriu o rosto e só falou quando lhe perguntei sobre a cicatriz desenhada no ombro. “HIV/AIDS”, atirou com secura. Entretanto, com o Okavango a baixar até ao palmo de altura, tivemos que seguir a vau. Com 5 ou 6 metros a separar as margens, pensámos em crocodilos e hipopótamos. Mas eram os babuínos quem andavam por ali. Eram dezenas e levantavam os traseiros escarlates evitando a terra que ainda fumegava de incêndio recente. Então a água voltou a subir e voltámos aos mokoros.
Entretanto, com o Okavango a baixar até ao palmo de altura, tivemos que seguir a vau. Com 5 ou 6 metros a separar as margens, pensámos em crocodilos e hipopótamos. Mas eram os babuínos quem andavam por ali. Eram dezenas e levantavam os traseiros escarlates evitando a terra que ainda fumegava de incêndio recente. Então a água voltou a subir e voltámos aos mokoros. Por fim, já mal se conseguia distinguir a distância entre as margens. Tive que juntar a cabeça aos joelhos para que o papiro não me cortasse o rosto. Mas eu era agora o apeadeiro ocasional para todo o tipo de insectos rastejantes. Aranhiços, pequenas centopeias e formigas vermelhas subiam-me pelos braços e passavam-me para dentro da t-shirt. Atrás de mim, a Fátima (também ela a ser açoitada pelas folhas) afastava os aranhiços que me desciam para dentro dos calções, enquanto eu esbracejava, tentando matar tudo o que me ia mordendo. No fundo do mokoro, iam caíndo formigas decepadas. As suas cabeças, mesmo sem o resto do corpo, continuavam presas à pele dos meus braços, como se fossem buscar uma última energia na morte. Eram só cabeça, mas eu ainda sentia as suas mandíbulas como se fossem alfinetes.
Por fim, já mal se conseguia distinguir a distância entre as margens. Tive que juntar a cabeça aos joelhos para que o papiro não me cortasse o rosto. Mas eu era agora o apeadeiro ocasional para todo o tipo de insectos rastejantes. Aranhiços, pequenas centopeias e formigas vermelhas subiam-me pelos braços e passavam-me para dentro da t-shirt. Atrás de mim, a Fátima (também ela a ser açoitada pelas folhas) afastava os aranhiços que me desciam para dentro dos calções, enquanto eu esbracejava, tentando matar tudo o que me ia mordendo. No fundo do mokoro, iam caíndo formigas decepadas. As suas cabeças, mesmo sem o resto do corpo, continuavam presas à pele dos meus braços, como se fossem buscar uma última energia na morte. Eram só cabeça, mas eu ainda sentia as suas mandíbulas como se fossem alfinetes.Etiquetas: Africa, Botswana, Reino Animal, Safari, Transportes
 Um par de anos mais tarde, acabei por lá voltar. Agora, o troço de linha entre a Estação de Chelas e o Túnel da Bruxa já era feudo para quatro putos que teimavam em querer tropeçar numa aventura. O Bibita tinha mais um ano que o resto de nós e já tinha um penteado à futurista, atributos mais que suficientes para autenticar um líder nos recém-chegados Anos 80; o Jaime e eu andávamos juntos na preparatória (ainda andamos, não é, irmão?); e o Brux, mais adiposo e menos afoito, mas com um humor que antecipava a época.
Um par de anos mais tarde, acabei por lá voltar. Agora, o troço de linha entre a Estação de Chelas e o Túnel da Bruxa já era feudo para quatro putos que teimavam em querer tropeçar numa aventura. O Bibita tinha mais um ano que o resto de nós e já tinha um penteado à futurista, atributos mais que suficientes para autenticar um líder nos recém-chegados Anos 80; o Jaime e eu andávamos juntos na preparatória (ainda andamos, não é, irmão?); e o Brux, mais adiposo e menos afoito, mas com um humor que antecipava a época.Etiquetas: Lisboa, Transportes
 Naquele momento, enquanto os cavalos trotavam e as vacas pastavam no leito seco do rio, o ocasional imbecil brilhou intensamente e apenas pôs em causa toda a dieta alimentar de um continente: “Olha, também há bichos destes em África?!”
Naquele momento, enquanto os cavalos trotavam e as vacas pastavam no leito seco do rio, o ocasional imbecil brilhou intensamente e apenas pôs em causa toda a dieta alimentar de um continente: “Olha, também há bichos destes em África?!”Etiquetas: Africa, Botswana, Reino Animal, Safari
 Quando visitá- vamos o Douglas, levávamos connosco a pá Digmore. Assim se sabia se alguém estava a ocupar o Douglas: bastava Digmore não estar no seu sítio. No fim do diálogo, utilizava-se o papel higiénico da forma que as sociedades civilizadas preconizaram, acendia-se um fósforo e deixava-se tudo a arder no buraco. Mais uma vez, Douglas e Digmore, qual Batman e Robin, tinham salvo o dia.
Quando visitá- vamos o Douglas, levávamos connosco a pá Digmore. Assim se sabia se alguém estava a ocupar o Douglas: bastava Digmore não estar no seu sítio. No fim do diálogo, utilizava-se o papel higiénico da forma que as sociedades civilizadas preconizaram, acendia-se um fósforo e deixava-se tudo a arder no buraco. Mais uma vez, Douglas e Digmore, qual Batman e Robin, tinham salvo o dia.
 Custava a crer. Aquilo era o Nada absoluto. Aquilo não podia estar vivo há meros dois anos.
Custava a crer. Aquilo era o Nada absoluto. Aquilo não podia estar vivo há meros dois anos. E, contudo, tudo aquilo era magnífico.
E, contudo, tudo aquilo era magnífico. Apenas um chacal, dizia ele. Naquele momento pensei o quanto da nossa vida se pode pôr nas mãos de um desconhe- cido. Mas, também, aquilo era a vida dele, era o que ele fazia. Instintivamente, sosseguei. E o chacal uivou apenas mais uma vez. E mais distante, algures no meio do Nada.
Apenas um chacal, dizia ele. Naquele momento pensei o quanto da nossa vida se pode pôr nas mãos de um desconhe- cido. Mas, também, aquilo era a vida dele, era o que ele fazia. Instintivamente, sosseguei. E o chacal uivou apenas mais uma vez. E mais distante, algures no meio do Nada.Etiquetas: Africa, Botswana, Deserto, Reino Animal, Safari